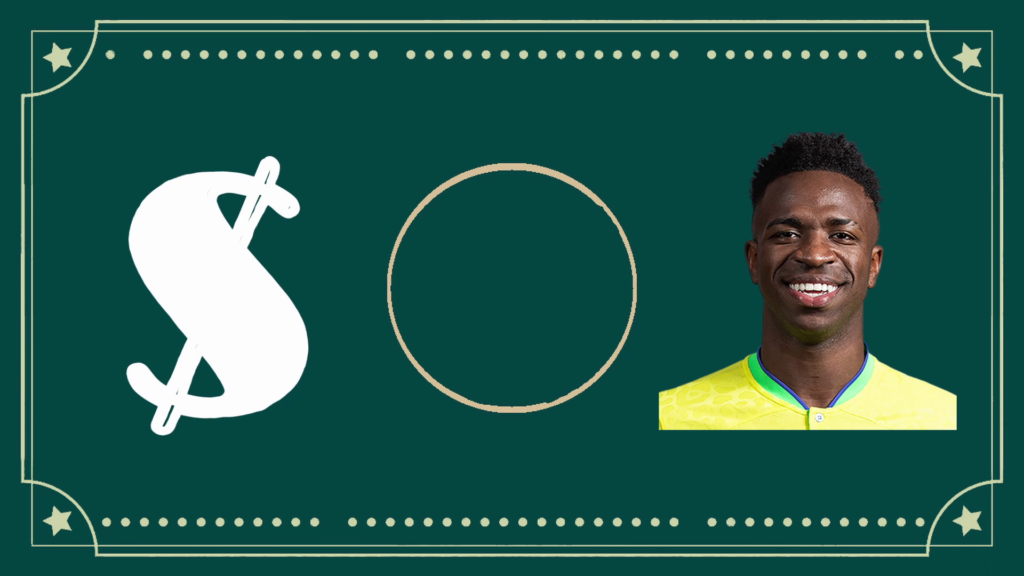Existem tipos de bandidos? Existe bandido bom e bandido mau? Lampião, Bandido da Luz Vermelha, Charles Anjo 45, Robin Hood, Casal Nardoni… são todos iguais? Bandido bom é bandido morto ou bandido bom é… aquele que roubou seu coração?
A Amazon Prime lançou este ano a série Cangaço Novo. Sucesso de público em nível global, segundo o site Omelete, e também de crítica, com notas 8,5/10 no IMDb e 4,5/5 no Cine Pop, a série explora o tema do bom bandido e retoma a boa e velha temática do cangaço.
Inspirada em crimes que vêm acontecendo principalmente no interior em diversas regiões do Brasil e que ficaram conhecidos como o novo cangaço, e tendo como paisagem os Sertões do Ceará, nosso herói retorna de São Paulo, onde viveu desde criança, para a fictícia Cratará em busca de uma possível herança que pode salvar a vida de seu pai adotivo doente. Lá, acaba descobrindo ser filho de um líder popular que se envolveu em disputas com poderes locais e terminou morto.
Assumir a posição como uma nova liderança, além de ser um projeto que não estava em seus planos, vai lhe custar muitos percalços. Mas a vida sem uns percalços para tropeçar não tem a menor graça. Principalmente nas séries de TV. Mas não se preocupem, não vou estragar o final para quem ainda não assistiu.
Água, terra e bala
A trama de Cangaço Novo é sobre disputa por água e terra. Essa disputa não é novidade para ninguém. O grande paradigma que vem construindo a sociedade brasileira ao longo dos séculos gira em torno de quem possui terras e recursos e quem fica de fora da festa, seja por não possuir tais recursos, seja por simplesmente não ter direito formal a eles, como no passado. O que no final representa duas estratégias para alcançar o mesmo fim. O passado sempre deixa sua herança. Poder nas mãos de poucos e marginalização social e geográfica para muitos. E segue cumprindo a finalidade de manter os herdeiros daqueles que não tinham direitos à margem da sociedade. Quando chove tem fartura, mas ai de quem sonhar que água e terra são para todos.
A própria origem dos grupos cangaceiros, ainda no Brasil Colônia, gira em torno dessa dinâmica. Resumindo muito grosso modo, as regiões litorâneas do Nordeste são férteis o ano inteiro. Se caminhamos em direção ao interior, vamos encontrar a Zona da Mata, também pouco afetada pelo clima do semiárido. Já a Caatinga, como sabemos, passa por períodos de seca e chuva.
Em tempos férteis, os coronés mantinham grupos de jagunços que cuidavam de todo tipo de serviço, da pecuária a assuntos de ordem política ou em disputas com outros latifundiários locais. Com seus exércitos particulares, controlavam as suas áreas com poder quase absoluto. Em tempos de vacas magras, quando a chuva minguava, esses grupos eram dispensados passando a vagar pelo sertão, sem vinculação com ninguém a não ser seus próprios líderes, atrás de formas nem sempre justas de sobrevivência. Com o tempo alguns desses grupos se tornaram autônomos, independe da época do ano, mas sempre articulados com os fazendeiros.
Além da associação com coronés, esses grupos também faziam parcerias de proteção mútua com camponeses, os chamados coiteiros. Não era exatamente a imagem que se tem de um Robin Hood, mas ambos lados tiravam algum proveito dessa parceria. Em Cangaço Novo, Ubaldo tem também um quê de protetor dos fracos e oprimidos, mas, na verdade, a identificação que o camponês tinha com os antigos cangaceiros, assim como a atuação de Ubaldo – e antes dele, com seu pai – iam muito além de caridade.
A trama de Cangaço Novo tem muito a ver com a dos antigos cangaceiros, mas traz algumas diferenças cruciais. Na verdade, todos os problemas de Amaro e Ubaldo Vaqueiro começam com sua desvinculação dos grupos de poder dominantes. O coronelismo ainda é muito forte em muitas localidades e eles poderiam apenas se vincular a esses grupos e garantir sua sobrevivência, mas a longa experiência das lutas de minorias no último século traz uma nova consciência a essa luta.
Eles não andam sozinhos, têm seus aliados, mas pela sua dependência de água e dinheiro fica claro que os grupos políticos que os apoiam não são bem-vistos pelos verdadeiros coronés. E não ser bem-visto significa, digamos, ser convidado a se retirar do jogo sempre que surge a oportunidade de fazer esse pedido. Sem acesso garantido a água, com suas terras no prego e na mira da milícia do Senador Maleiro, que métodos de resistência poderiam ser considerados lícitos? As lendas e a realidade do antigo cangaço passam longe de ser contos pacifistas. E a ficção de Cangaço Novo também. Então por que as pessoas se identificam com esses ícones de violência?
A chave liga-desliga
A associação do cangaço com o que se conhece hoje como as Milícias é na verdade quase automática. Braços informais do Estado atuando com autonomia e de forma ilegal, com o apoio do Estado. E talvez o Estado miliciano de hoje seja herdeiro dessas práticas que vêm se adaptando, ao longo dos séculos, aos tempos modernos. Mas na época do cangaço as coisas eram diferentes.
A presença do Estado era pífia. A lei eram os próprios coronés e a ordem que imperava era a do controle de corpos não brancos que, se ainda hoje não têm garantidos seus direitos, nessa época o direito inexistia. Sob os olhos de hoje, os cangaceiros seriam condenados, pelo menos pela parte da sociedade que defende os direitos humanos como princípio. Mas, efetivamente, controle, punição, castigo e assassinato de corpos negros, indígenas ou caboclos não eram por si só um crime na época.
E a conexão do velho cangaço com a série também é clara: disputa entre classes, sertão, liderança popular. A estética é contemporânea, você não vai ver cangaceiro de chapéu de couro e bornal. Mas a paisagem e a temática recebem de herança a vasta literatura cangaceira. Muitos vão dizer, sobre Lampião, que, apesar da magnitude que os mitos que envolvem sua imagem alcançaram, ele não era exatamente um líder popular. Se, por um lado, são conhecidos relatos de que ele proibia – e mesmo punia – seus cangaceiros por maltratar crianças, mulheres e idosos, por outro, sabe-se também que essa proibição não se aplicava quando era o caso era de seu interesse.
São conhecidos relatos de vinganças por traição, por exemplo, onde parentes sofriam as consequências de se desafiar o Rei do Sertão no lugar daquele que cometeu o desacato, caso este não fosse encontrado. Cangaço e milícia, cangaço liderança popular. Ubaldo, em Cangaço Novo, assume uma posição menos ambígua como um real articulador de uma luta por justiça. Atualizando o mito do bandido-herói com a consciência social inexistente até a época do Capitão Virgulino.
O que tornava os cangaceiros bandidos-heróis, então? Qual a razão dessa ambiguidade em relação a figura de Virgulino? Que condição virava a chave que liga e desliga o status de malfeitores? Essa resposta depende das condições econômicas e climáticas de cada época, como vimos, mas também do ponto de vista de quem conta a história. Estar associado com o latifúndio e buscar não apenas a proteção, mas a realização de interesses comuns era comum até os últimos momentos do Cangaço. Lampião e Corisco morreram em fazendas de aliados.
Seguir associado, ainda que autonomamente, ao poder é garantia de proteção, tanto física quanto moral. Sob os olhos do poder, esses grupos eram aliados. Por que, então, usar o poder que tinham para eliminá-los? Enquanto eram úteis, foram poupados, mas quando foi do interesse do Estado, já na era de Getúlio Vargas, foram abatidos como gado, assim como Amaro, pai de Ubaldo. E justamente aí entra o outro lado da questão. Esses grupos não são parte da elite. Não são cowboys de faroeste e não têm os olhos verdes do Clint Eastwood. Não passavam de intermediários da manutenção do poder. E são descartáveis sempre que o poder não precisar mais deles.
O camponês pobre, por sua vez, se via naqueles homens negros e caboclos que realizavam façanhas fabulosas e se equiparavam à imagem dos coronés. Essa é a segunda chave que liga o status de herói. A identificação das pessoas racializadas com as proezas do mito de Lampião e seus antecessores que as fazia preencher com a imaginação os vazios deixados pelo estado de marginalização a que são submetidos. Daí nasce toda a mitologia em torno do nome de Lampião. O Lampião real e o Lampião imaginado. O jagunço, intermediário do poder, e o caboclo desdentado. O protomiliciano e o Charles Anjo 45. Amaro Vaqueiro, cuja trajetória Ubaldo tem dificuldade de lembrar, surge como uma imagem de resistência contra grupos políticos opressores. Essa memória quase apagada da resistência ancestral amplia as conexões de sua imagem com a identificação construída pelos mitos do velho cangaço.
Nem cowboy, nem Eastwood, tampouco Robin Hood
Um erro comum é a associação entre a literatura e o cinema de cangaço com o faroeste enquanto gênero de ficção. Existem semelhanças, mas elas são superficiais. Ambas partem de premissas bem diferentes e tiveram evoluções independentes. E essas diferenças são importantes para entender o Cangaço Novo. O tema central dos antigos filmes de faroeste era a luta do bem contra o mal. Até aí, tudo bem. Mas as imagens do que era o bem e o mal se projetavam em temas como a superação das dificuldades impostas pela natureza e sobre como construir uma comunidade ordeira, ou seja, a luta da civilização contra o selvagem.
O herói típico do faroeste, segundo o livro Film Art, se situava entre dois polos. Se sentindo em casa nos ermos desertos do Oeste americano, tendia, no entanto, para a justiça e a civilização. O que passa desapercebido é a naturalização dos povos indígenas como a personificação do mal e do selvagem a ser abatido. Por fim, ainda segundo o livro citado, o mocinho decidia se juntar às forças da ordem ajudando a combater seja lá o que for que o filme apresentasse como uma ameaça à estabilidade e ao progresso.
As histórias de cangaço não têm as mesmas características do faroeste, mas o antagonista de lá, que é o protagonista daqui, têm em comum o mesmo fim. Mesmo fim de Ubaldo? Não sabemos. O que sabemos é que a longa história da arte popular que retrata os mitos do cangaço parte do ponto de vista oposto ao do faroeste.
Como decidir ficar do lado de um suposto progresso se esse progresso significa a sua própria escravização ou dizimação? Como trazer civilização se as forças contra quem se luta são aquelas que dizem que você é o animal selvagem a ser abatido? As civilizações originárias das Américas e da África foram barbarizadas por aqueles que alardeavam civilização. Selvageria que segue acontecendo até os dias de hoje.
Por isso, a premissa básica das histórias de cangaço é a resistência. O caboclo oprimido vê no poderoso cangaceiro um semelhante e a luta sai do ponto de vista do suposto civilizado contra o suposto selvagem e passa a ser a luta do oprimido contra o opressor. E aí pouco importa se o cangaceiro A, B ou L, na vida real, cometeu atrocidades. Não porque seus crimes não tenham importância, mas porque a imagem popular do cangaceiro poderoso, astuto e imponente da ficção alimenta o sonho de sua própria libertação. A ambiguidade fica clara aqui. Não é o bandido que as pessoas querem. É sua liberdade, oportunidades e prosperidade.
Mulher no Cangaço
Ubaldo e seu bando de novos cangaceiros são assaltantes de bancos. Ele entra no bando inicialmente forçado pelas circunstâncias e aos poucos assume uma posição de articulador das ações e ao mesmo tempo de mentor ideológico do grupo. Antes de sua interferência, o grupo aterrorizava a população em suas ações praticando todo tipo de violência contra quem quer que fosse. No final, suas ações terminaram por ajudar a população a reaver terras tomadas em hipoteca. Mas a trama leva o grupo a um projeto mais ambicioso do que o mero ideal robinhoodiano.
Principal candidata a herdeira do legado e liderança do pai antes da chegada de Ubaldo, Dinorah é pintada como uma mulher forte, com personalidade e iniciativa, mas suas decisões são impulsivas, condicionadas pelos traumas por que passaram depois da morte do pai, semelhante ao que ocorre com a irmã Dilvânia. Além disso, sua improvável ascensão à liderança é embarreirada por uma parte do bando que não aceita receber ordens de uma mulher.
Vi uma das produtoras falando no making of, e isso nos leva de volta ao velho cangaço, que eles queriam uma cangaceira “menos condescendente” do que as antigas. De fato, tanto Dinorah, com seu temperamento explosivo, quanto sua irmã de personalidade mais doce são mulheres fortes. Mas é preciso ter em mente que um século atrás as coisas eram diferentes. Antes de Lampião, a entrada de mulheres nos bandos era não apenas proibida, mas um tabu, uma quebra da proteção mística que os cangaceiros acreditavam ter. Ter relações sexuais com uma mulher obrigava o cangaceiro a refazer todo o ritual de proteção mística que eles faziam. Mulher trazia azar ao bando.
A quebra de paradigma promovida por Virgulino Ferreira coloca a mulher nordestina em uma posição nunca antes ocupada. As únicas perspectivas para uma mulher camponesa até então era se tornar parideira ou prostituta. A vida dessas mulheres dentro dos bandos também não era fácil. Por um lado, os homens dos bandos historicamente sempre tiveram o hábito de cozinhar e costurar. Sim, é ele mesmo aí na foto, Virgulino na máquina de costura. As mulheres não necessariamente assumiam essas posições. Mas sua segurança ficava ameaçada quando se tornavam viúvas. Passavam à condição de arquivo vivo de informações sobre a atuação dos grupos e se não encontrassem um novo companheiro, estavam em risco de morte. Voltar à vida normal não era autorizado e muitas foram assassinadas.
Em todo caso, uma cangaceira era a imagem da mulher independente e poderosa, se comparadas com os padrões da época. E de condescendentes não tinham nada, ainda que estivessem inseridas na sua cultura e no seu tempo. Não dá para comparar com a atualidade sem fazer os devidos ajustes. Mas uma mulher empunhando uma arma naquela época era revolucionário. Além disso, quebrando paradigmas que estabeleciam os comportamentos aceitáveis para uma mulher então. E não, os bandoleiros não foram exterminados por causa de Maria Bonita, Dadá ou por forças místicas. Eles foram abatidos porque Getúlio Vargas enviou reforços federais para isso.
Ambas, Dinorah e Dilvânia, passam por problemas causados pelos traumas que sofreram com e depois da morte do pai. Não vou falar sobre isso para vocês ficarem com vontade de ver a série. A mudez da mais nova e a impulsividade agressiva da mais velha são seus pontos fracos, mas são também uma força que as coloca em ação. Fico me perguntando que posições vão ocupar as duas nas temporadas seguintes…
Mito de Resistência
Os filmes de Velho Oeste são como um mito fundador. Aquelas histórias que procuram explicar como começa uma determinada civilização. E como fruto do processo colonial, traz implícita a ideia de genocídio como um feito heroico. Os mitos e a realidade envolvendo o cangaço estão longe de ser pacifistas, mas protagonizam o outro lado da história.
Não era um movimento popular como conhecemos hoje, mas subverteu o poder estabelecido e questionou o paradigma genocida que funda as sociedades coloniais. E mesmo alguns paradigmas de gênero. Mas, enquanto gênero literário único, brota da terra como um mandacaru, ou seja, é fruto de uma longa evolução em seu próprio habitat. Gênero se aplica às histórias, não à História. Ficção e fato são diferentes, mas andam lado a lado. E é preciso separar bem as coisas.
Claro que não vai demorar para aparecer o mimimi de sempre sobre defesa de bandidos. Bandido bom é bandido que faz o que o poder quer. Na verdade, esses nem são bandidos, segundo quem tem o poder de produzir informação. O grande feito de Cangaço Novo não é apenas transformar crimes em luta social, mas transformar silêncio em voz. Mudos diante da violência de seus traumas, a população da fictícia cidade de Cratará reinventa os mitos de resistência ancestral do oprimido contra o opressor.